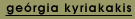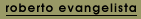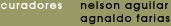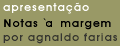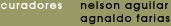 | |
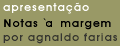
Tanto ou mais do que demarcações de ordem político-geográficas, certas personagens e situações mais inspiradas, pertençam elas a alguma pintura, narrativa literária ou outra forma de expressão artística qualquer, têm o condão de fundar aspectos essenciais de um determinado grupo social. Note-se que não é que essas personagens e situações retratem com dose maior de fidedignidade do que outras aspectos essenciais de um grupo social qualquer. Não. A rigor, são elas as reais criadoras desses aspectos; elas que os trazem à tona, e fazem esse grupo travar contato com aquilo que até então ele não sabia serem aspectos constitutivos dele mesmo. É essa constatação que permite a Brodsky concluir que o que impede as civilizações de desaparecerem não é tanto seus exércitos, mas sua língua(1). Seguindo nossa linha de raciocínio, o que Brodsky fala a propósito de um poeta (Derek Walcott) pode e deve ser estendido aos artistas de um modo geral.
Entre os vários artistas que contribuíram para a fundação disso que, malgrado o desgaste do termo, chamamos de brasilidade, destaca-se Guimarães Rosa, cujo pequeno e perturbador conto "A terceira margem do rio" apresenta e crava um dilema no leitor brasileiro de tal ordem que este leitor passa a se identificar com ele. E, embora naturalmente para esse leitor a questão tenha uma presença mais próxima, ela também pode provocar o mesmo efeito num leitor estrangeiro. Afinal, não é assim que acontece com as grandes obras, aquelas que transcendem o plano mais imediato, local, onde foram gestadas?
Antes de proceder à exposição e análise sumária da imagem fabricada por Rosa, e justificar sua pertinência e alcance a ponto de ser utilizada como passagem através da qual se apresentará e discutirá as questões que permearam a escolha da representação brasileira da exposição Universalis, conviria lembrar que a prosa desse autor é um dos pontos altos de um momento muito particular da nossa história: o momento em que o Brasil, após ter desenhado suas fronteiras, debruçou-se sobre si e descobriu-se um universo espantoso; uma intensa geografia a estimular e sofrer os embates das diversas raças e tradições que por aqui se entrecruzam.
De fato, durante 250 anos, contados a partir de seu descobrimento, a população portuguesa do Brasil concentrou-se predominantemente, ressalvando algumas correntes migratórias episódicas e pontuais, ao longo de sua imensa faixa costeira. Talvez a presença da linha liquída que perfaz o horizonte do mar, limite visual de um território de acontecimentos insuspeitados, o aparecimento e o desaparecimento vagaroso das pontas dos mastros das caravelas metropolitanas, alimentasse a imaginação e mitigasse a saudade da pátria deixada na outra margem além do Atlântico. Quando finalmente se voltaram para o interior do país, foi para simultaneamente descobrirem e expandirem essa faixa delgada até a consolidarem no imenso plano irregular de hoje em dia.
O homem rosiano é fundamentalmente um homem do interior do país. Além disso, é um homem do povo. A narrativa em questão, sem definição precisa de época e lugar, sem nenhum dos cacoetes naturalistas, trata de um homem simples que, certo dia, sem que nada prenunciasse sua inusitada atitude, constrói um barco e, abandonando a família, entra com ele no rio situado ali perto e, no meio dele, entre suas duas margens, deixa-se ficar até o fim de seus dias, sem que nada nem ninguém logre alterar essa situação. Nem sequer o filho mais velho, que é quem narra a história e que também, fiel ao papel mítico que cumpre ao primogênito de salvaguardar a continuidade da espécie, não abandona o pai, mesmo quando a família, cansada e desiludida da espera monótona e infrutífera, muda-se para um outro lugar.
Suspenso sob o fluxo contínuo do rio, entre as duas margens fixas, esse homem é uma porção descontínua, finita, flutuando, navegando, ainda que imóvel, num fluxo infinito. Se as mais diversas mitologias consagram o rio como o tempo, e a passagem do homem pela terra como uma travessia por ele, as duas margens podem ser interpretadas como o domínio da contingência, ou, ao menos, a primeira como o ponto de onde se sai e a segunda como o ponto onde se chega. Seja como for, a terceira margem, ainda que faça referência direta às outras duas, é aquela que não existe, a que transcende a nossa condição e escapa do plano comezinho da realidade. Numa palavra, a insólita imagem de um homem com seu corpo/canoa flutuando entre as duas margens de um rio vale como paráfrase do velho adágio que afirma que o homem é ele e sua circunstância.
Além do fato de que "a simbólica do rio, da canoa e da outra plaga onde se chega morrendo, faz reverberar o relato contra o fundo mítico de todas as águas e barcas e terras firmes com que há milênios a imaginação humana adorna o terror de morrer"(2), há uma outra ressonância que se pode retirar dessa autêntica parábola de Rosa e que se conecta com um aspecto crucial da vida contemporânea. Refiro-me ao problema da globalização impulsionado pela tecnologia informatizada, instauradora do cyberspace que nos aproxima uns dos outros de um modo que até mesmo o mais fervoroso adepto do aforisma macluhiano "o mundo é uma aldeia global", de alguns anos atrás, julgaria improvável. Hoje, curiosamente, o contato que se tem não é mais aquele que se trava através do corpo. Sentados diantes de nossos monitores, cada um de nós, a maneira da personagem de Rosa dentro de sua canoa, vai singrando sua solidão pelas sendas intangíveis das infovias, inventando formas de socialização que obliteram as faces e os corpos dos interlocutores ou que os reiventam em simulações imagéticas.
Se, para Guimarães Rosa, cada homem é um ser protegido da dissolução no fluxo perpétuo do tempo por uma frágil embarcação de madeira, a humanidade formaria uma espécie de teia líquida, que troca entre si os fragmentos que cada um despeja para fora do barco, e que pelo rio vai rolando ao sabor de seu ritmo até esbarrar num outro barco.
Hoje, a terceira margem parece ser ainda mais precária. Na razão da pluralidade de ambientes deflagrados pelas novas tecnologias, onde cada um de nós é uma subjetividade bombardeada por uma miríade de informações oriundas de todos os pontos do planeta, a questão parece ser: qual a referência que resta a cada um de nós? Que identidade é possível se existem sistemas armados nos vários centros de decisões ocupados em engendrarem e enfeixarem pessoas, grupos e nações em imagens homogêneas e estereotipadas? Qual subjetividade será capaz de resistir incólume, sem se desenraizar, sem se desmaterializar, ao trespassamento por imagens de subjetividades que, não bastasse a arbitrariedade com que são revestidas, ainda são programadas para durarem não mais do que uma temporada?
Universalis
Tal como foi concebida, a mostra Universalis tenta estabelecer um campo de discussão sobre esse estado de coisas que caracteriza a vida contemporânea. O fato de haver elegido como tema o processo de desmaterialização pelo qual vem passando a obra de arte há pelo menos 30 anos serve para aprofundar ainda mais o debate. Do mesmo modo, o convite efetuado a seis outros curadores, cada qual ligado a uma região do planeta, tem como finalidade demonstrar como um mesmo problema, além de suscitar leituras variadas, irrompe, como é o caso, em diferentes poéticas, cujas especificidades justificam-se pelo modo como cada uma delas se inscreve em circunstâncias históricas bem definidas, dentro de um horizonte ideológico que lhe é particular, ou ainda, dito à luz de Guimarães Rosa, que se desenvolve a partir de margens singulares.
Os termos gerais dessa problemática por si só são suficientes para indicar a insuficiência de termos como arte brasileira, correlato ao termo arte latino-americana, para dar conta de uma mostra desse gênero. Critérios de ordem geopolítica, embora amplamente empregados até bem recentemente, como tão bem nos demonstrou a mostra organizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York no início desta década, a rigor nunca deveriam ter tido o estatuto de categoria epistemológica mediante a qual se pudesse efetuar uma seleção de trabalhos. Entretanto caíram como uma luva diante da velha e vã compulsão que assalta os brasileiros desde o Romantismo de resgatar a identidade perdida, síndrome que foi sucessivamente renovada pelos modernistas dos anos 20, pela fração stalinista da esquerda dos anos 60, e segue sendo um belo cadáver escondido no armário pronto a ser exumado em algum momento em que os brios da nação se sentirem feridos.
Se mesmo no âmbito do pensamento econômico o binômio centro-periferia, de resto largamente empregado durante os anos 60, ao mesmo tempo em que tentava explicar como se davam as relações entre as metrópoles e as novas colônias, terminava por encobrir a dialética que juntava ambos os termos num só processo, suas seqüelas no campo da produção artística foram desastrosas. Transposto para esse setor, o famoso binômio transmutou-se em pares de oposição tais como nacional e internacional, popular e erudito, atrasado e avançado, responsáveis por algumas das mais arrastadas pendengas que tiveram lugar entre nós. No que se refere aos seus efeitos junto ao público externo, sobretudo aquele sediado no "centro", essa formulação só serviu, e vem servindo, para que toda a nossa produção artística ou seja valorizada como produto exótico, como foi o caso da entusiasmada aceitação da literatura fantástica ou do recente fenômeno Frida Kahlo, ou seja tratada como mera derivação de algum artista ou movimento igualmente sediado no "centro".
Hoje, no momento em que se supera a leitura da arte que aqui se produz a partir de um instrumental teórico tão incipiente, o risco que se corre é de raiz dupla: por um lado prossegue-se na defesa entusiasmada e acrítica do antropofagismo cultural postulado por Oswald de Andrade, cujo sucesso ocorre também pelo modo como ele transforma nossa carência - a falta da cultura canônica ocidental - em virtude - a capacidade de deglutirmos e adaptarmos aos nossos interesses essa mesma cultura; de outro, a constatação, de resto óbvia, que, excluída a fórmula centro-periferia, o que se tem de fato é uma arte feita em consonância com um país marcado por contrastes e contradições históricas que, embora pertençam à lógica global, são inexistentes em países com um quadro político-econômico mais equilibrado e homogêneo.
Considerados estes aspectos, é natural e mesmo óbvio que a fragmentação e hibridismo perpassem a nossa cena cultural. Entretanto, fazer a apologia disto é ceder à tentação, muito em voga atualmente, de caracterizar o Brasil e a América Latina como uma verdadeira constelação, uma colagem aleatória, onde cada fragmento parece ter sido produzido por um deus ex machina, explicação que, aliás, vem mesmo a calhar num país marcado pelo sincretismo religioso. Sob esse ponto de vista tudo se passa como se houvesse hierarquias, linhas genealógicas, referências, além de contextos culturais que fomentam o incremento dessa e daquela vertente estética, e assim por diante.
Foi diante dessas considerações, e despojados da ambição de realizar um inventário que compreendesse todo o espectro de questões trabalhadas por nossos artistas, que se definiu como eixo temático a desmaterialização da obra de arte, tema de resto dos mais candentes. A partir daí Roberto Evangelista, Geórgia Kyriakakis, Eder Santos, Flávia Ribeiro, Nelson Felix e Arthur Barrio foram escolhidos para representar o setor brasileiro da exposição. Reunindo obras atuais desses artistas, projetos especialmente elaborados para o evento, tenta-se estabelecer pontos de contato que deixem entrever que, não obstante a pluralidade de posições estéticas existentes, moldadas a partir da ótica particular com que cada um dos artistas comenta as circunstâncias em que vive, todas elas, à sua maneira, com suas melodias próprias, com a evidente influência da vertente conceitual, do minimalismo e do debate concretismo-neoconcretismo que por aqui grassaram entre fins dos anos 50 (estes) e meados dos anos 60 (aqueles), dialogam entre si, potencializam-se mutuamente, lançando novas luzes sobre a proposta.
Roberto Evangelista
Para o amazonense Roberto Evangelista, a Amazônia é um conjunto de materiais, imagens, lendas, cheiros, calor, luz, ruídos, peles e penas de animais etc., somado à Zona Franca, à industrialização criminosa, ao desmatamento, à poluição, aos leprosos nas esquinas de Manaus, à desaparição de nações indígenas, à dor de assistir a tudo isso insulado num mar verde. Para Evangelista a Amazônia é também a constatação de que, não obstante esse confronto, a natureza prossegue respirando e se mantém como a única possibilidade de fazer germinar a vida.
Apoiada no precário, no efêmero e no elemento humano, a obra de Evangelista é única entre nós no sentido de que tem como perspectiva a cura do homem contemporâneo por meio da arte. Sua opção estética atravessa as formas tradicionais e vai buscar no âmago da natureza a essência de um mundo à beira de ser esquecido e que, caso desapareça, irá nos levar com ele. De lá ele retorna com a matéria bruta, que tanto pode ser pedras, penas de passáros, cuias ou um canto indígena ancestral que versa sob a amizade, com a qual ele estabelece confrontos incisivos sob a forma de instalações e intervenções, com ícones da nossa cultura urbana ou mesmo com o cidadão anônimo que passeia pelas ruas. Seu alvo são sempre os símbolos de uma civilização que nos últimos dois séculos entronizou a razão instrumental e que nos rendeu empobrecimento e desprezo em relação às coisas da natureza. Mas, cumpre frisar, o olhar de Evangelista não é nostálgico, não preconiza o retorno a um mundo edênico. Interessa-lhe, como no projeto elaborado para essa exposição, o desgaste das coisas do mundo como exemplo da troca entre o homem e a natureza, como memória que vai se depositando nas pedras do chão à medida que os passos das pessoas as vão escavando.
Geórgia Kyriakakis
O desenho foi o ponto de partida da trajetória artística de Geórgia Kyriakakis. Mas somente o ponto de partida. De lá para cá seu trabalho foi se distanciando até ficar situado numa região eqüidistante entre o desenho, a pintura e a escultura. É certo que diante de trabalhos mais antigos a tendência inicial era encará-los como desenhos, mas em seguida reconhecia-se a dificuldade de definir desse modo as camadas de papel embebi-dos em resina até ficarem translúcidos e que, à maneira de peles, eram expostos pendura-dos em tetos. Também fascinava como se comportavam as linhas feitas a lápis em algu-mas dessas folhas. Pareciam não concordar com o fato de serem o resultado de uma su-cessão de gestos executados pela artista. Em vez de estarem subordinados a ela, revolta-vam-se e tomavam emprestada a matéria do grafite para ganharem corpo e se transforma-rem em manchas densas ou quase em ossaturas.
Seguindo essa lógica, Geórgia passou a explorar ainda mais essa compreensão da arte como convívio e confronto entre os materiais empregados e os próprios elemen-tos. A bolsa recebida para uma estada de três meses, em 1995, no European Ceramic Work Centre, em Hertogenbosch, Holanda, fez com que ela travasse conhecimento com barro e, mais do que isso, com a passagem do barro para porcelana por intermédio do fogo. Em uma série mais recente, além do papel, da resina e do grafite originais, ela pas-sou a utilizar a parafina e o vidro. As configurações foram muito além das "peles" do iní-cio, ainda muito presas às convenções, e variaram para obras tridimensionais. A despeito da materialidade evidente desses objetos, ou, talvez, justamente por causa dela, passou a confrontá-los com sua fragilidade, submetendo-os, do mesmo modo que havia feito com o barro, ao fogo. A valorização do resíduo das cinzas, da fumaça, ao passo que significa a valorização da memória, do passado de onde vieram, também quer dizer a valorização daquilo que está além das coisas, daquilo que resta depois que elas passam.
Eder Santos
Mineiro de Belo Horizonte, Eder Santos vem realizando filmes, vídeos e vídeo-instalações nas quais conjuga elementos pessoais, culturais e de alta tecnologia com o intuito de reinterpretar motivos relacionados com raízes africanas, européias e indígenas de nosso país. Coerente com os ritmos e fragmentos de sua memória e de nossa história, ele faz um amálgama de linguagens provenientes dos mais variados meios de produção de imagem, seja o doméstico Super 8, o 35 mm ou as técnicas mais sofisticadas ligadas aos sistemas informatizados.
Santos confere materialidade àquilo que estavámos acostumados a aceitar como imaterial: a imagem. De fato, o tratamento que ela recebe vai no sentido contrário à sua natureza diáfana, impalpável. Em seus trabalhos, sobretudo aqueles para serem projetados em suportes como um monte de terra, água, pedras, como é o caso de O Lago e a Monta-nha, projeto de vídeo-instalação elaborado para essa exposição, a imagem ganha substân-cia e uma densidade que a faz se tornar coisa entre coisas. Indo além das aparências, rumo à dimensão semântica, nota-se a maestria do artista no trato com o tempo, no questiona-mento implacável quanto ao ritmo veloz com que as imagens nos são despejadas cotidia-namente, impedindo-nos de refletir sobre aquilo que nos chega. Em seus trabalhos são comuns os longos e morosos planos-seqüências de atitudes e gestos banais - homens an-dando a cavalo, alguém remando num bote -; em suma, cenas freqüentemente retiradas dos hábitos ordinários e atávicos da população rural vão se desfazendo em seqüências repetidas e texturadas, deixando a memória de que no âmago do nosso país existe um Brasil mais antigo que sobrevive precária mas talvez indiferentemente a todo o feerismo tecnológico que o cerca.
Flávia Ribeiro
Embora tenha iniciado muito cedo sua carreira, Flávia Ribeiro realizou sua pri-meira exposição individual apenas em 1985, quando já estava com 34 anos. Preferiu de-dicar-se a aprofundar seu trabalho e deixá-lo maturar lentamente do que se envolver com a súbita efervescência que o mercado artístico propiciou naquele momento aos jovens artistas. Trilhando um caminho à margem da famosa geração 80, a artista não sofreu a ação atrofiadora que acometeu a alguns de seus colegas em função de um reconhecimento precoce. O resultado dessa postura que enxerga na expressão artística o compromisso com um trabalho árduo e necessariamente lento traduz-se em obras que evocam a paciên-cia e a sabedoria das mãos.
Ao contrário da estridência e do ornamentalismo que assaltam a pintura que se faz contemporaneamente, a fatura pictórica dessa artista é marcada pela sobriedade. São obras de acabamento rudimentar e aparência ancestral, ligadas ao tempo em que as mãos venceram a distância que o olhar colocava entre os homens e as coisas e descobriram que podiam sentir o peso, o frio, o calor e as texturas. As flores de metal banhadas em ouro, que junto com as "peles" de látex compõem o conjunto das obras expostas nesta exposi-ção, derivam da longa experiência de Flávia Ribeiro na esfera da gravação. Têm a apa-rência de símiles agigantados de fósseis encontrados adormecidos em pedras. A passagem do tempo, que pelos séculos vai conferindo dureza às flores, impedindo-as de desaparece-rem, encontra homologia na ação da prensa e na sutil variação que a superfície da matéria vai obtendo em contato com o ar.
Nelson Felix
A trajetória deste artista nascido no Rio de Janeiro em 1954 é voltada para a busca do oculto, daquilo que é essencial, daquilo que não se vê, mas que, no entanto, é o que dá sentido às coisas. Desde seus desenhos tão carregados, que devolviam ao grafite a natureza pétrea de onde ele havia nascido. De modo semelhante funcionavam os monoli-tos negros feitos de grafite e que traziam em seu interior pequenas pedras de diamantes. A associação entre o grafite e diamante, ou seja, entre o opaco e o transparente, a impureza e a pureza, lembra-nos Felix, é completa, posto que tanto o grafite como o diamante com-partilham do mesmo átomo de carbono. De sutileza em sutileza seu trabalho se move.
Nesse seu trabalho para a Universalis ele avança em sua especulação sobre o mundo orgânico, num caminho iniciado com versões ampliadas de glândulas do nosso corpo, num jogo em que a figura, embora íntima de nós e responsável pela nossa disposi-ção física, passa como sendo uma abstração. Para este projeto ele elaborou uma enorme peça de mármore que corresponde a um vazio que possuímos dentro do nosso cerébro e que está disposta entre uma seqüência de mesas onde estão escavadas, em baixo-relevo, o rosto, o tórax e a pélvis do artista. Junto com essas referências diretas ao nosso corpo - várias delas estampadas nesse objeto cotidiano - a mesa, reservada à comunhão entre os homens, ou ao menos um ponto de parada no dia, necessário para a reflexão e a alimenta-ção, encontramos as ervas dormideiras. Representante do que há de mais sutil dentro da natureza, esse pequeno arbusto reage e se fecha caso nosso toque ou mero movimento em torno lhe seja muito brusco.
Arthur Barrio
|
| |